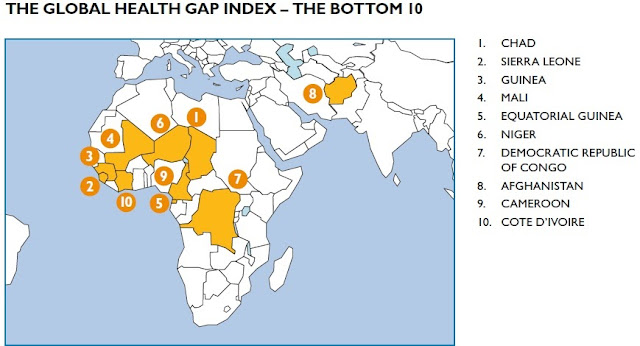Dizem que ando meio
impaciente. Impaciente é sua avó! :-) OK. Admito uma leve inquietação com alguns
temas, como matérias e discussões em época de lançamento de relatórios de
pesquisas, como o Censo e o Índice do Desenvolvimento Humano, o IDH. E, não passa
um mês sem algum destes relatórios. Nesta semana, saiu o estudo sobre o IDH Municipal,
o IDHM.
Eu tento ficar na
minha. Mas, o povo insiste em comentar o IDH como uma tabela do campeonato
brasileiro. É a mania por rankings. Subiu! Desceu!Passamos a Argentina? Tudo
parece orbitar a velha questão se “o meu é maior do que o seu”.
Para me acalmar conto
até 10, fora de ordem. Difícil, diante da preguiça expressa nos textos. E as informações
muito relevantes? Tipo: Conceição do Lago-Açu (MA) tem renda per capita 20 vezes
inferior a de Águas de São Pedro (SP). E
pensar que eu vivia sem saber disso? A mãe do jornalista mora em Conceição do Lago-Açu? :-)
Cansativo ler que
a Veja vai destacar que nós não passamos nem o Uruguai e que a Carta Capital dirá
“que nunca antes na história deste país” subimos 34 posições. Ambas as afirmações
completamente irrelevantes.
O IDHM é filho do
IDH. Assim como o pai, combina três dimensões:
Saúde; Educação e Renda. Mas, é diferente do pai. Tem adaptações metodológicas
profundas na área de Educação com ênfase ao “investimento” (foco na população adolescente
e jovem) e ainda se utiliza parâmetros de renda mais precisos. Para que os
indicadores possam ser combinados em um índice único, eles são transformados em
índices parciais, cujos valores variam entre 0 e 1, sendo que quanto mais
próximo de 1 mais alto será o nível de Desenvolvimento Humano. Os dados do IDHM
vêm do Censo de 2010. Como é distinta, não se pode, portanto comparar o IDHM2011
com as medições feitas pelas metodologias anteriores. Por isto também foram
“remedidos” os IDHMs 1991 e 2000. Isto gerou um panorama completo e
espacialmente referenciado. Até municípios que não existiam em 1990 podem saber
qual era o IDHM do seu atual território, antes da divisão.
Alguns “poréns”
são armadilhas para os apressados e picaretas.
O primeiro é que
o IDH (que dá base ao IDHM) não foi feito para ser medido por município. Mesmo
com as competentes adaptações feitas pelo IPEA, não funciona bem em unidades
territoriais muito pequenas e interligadas abertamente. Em português claro, o
IDH de um município contamina o outro. E os municípios são unidades altamente
permeáveis. Isto inviabiliza uma análise isolada, listas de top 10 e outras
preguiças mentais.
Segundo, o IDHM
trata de unidades muito díspares: os municípios. Daí, não se podem tirar
grandes conclusões de pérolas como: “43,5% dos municípios possui longevidade
superior à média nacional”. Neste tipo de agregação, Borá (805 habitantes) e
São Paulo (11,3 milhões) entram como UMA unidade. É estatística que só serve
para fazer gráfico colorido, bonito de postar, depois da foto do macarrão que
você fez e acha que alguém está interessado. Aposto que o jornalista maníaco
por ranking faria um brilhante comentário tipo: “YUMMY! Também quero”.1,2,4,7...
Terceiro é que, quando
estou quase calmo, abro o jornal e me deparo com “especialistas em tudo” de
plantão a compararem o IDHM com IDHs nacionais. Ex. São Caetano do Sul tem IDHM
maior do que a Espanha. Cacimbas tem IDHM menor do que Moçambique. Cacimba! As
metodologias de medição são incomparáveis. É mais ou menos como comparar estes
jornalistas e especialistas com gente que saiba do que está falando. 1,2,8,3...
DETALHES
TÃO PEQUENOS DE NÓS 188 MILHOES.
Não estou
cuspindo no índice que tanto comi. Bom lembrar que o “Atlas de Desenvolvimento
Humano”, que traz também o IDHM, é uma excelente base comparativa dos quase
6000 municípios brasileiros. São 180 indicadores. Para quem quer se debruçar
sobre os dados, há muita informação. Mas, precisam ser correlacionadas com
outras, inclusive com um mínimo conhecimento sobre o que se passa nestes municípios.
Embora o IDHM não
seja uma medida significativa no varejo, é riquíssimo quando examinado no
atacado. Analisar municípios por grupos, entender as diferenças entre cidades
limítrofes. Evoluções atípicas, etc. Estes dados geram perguntas. E já disse Guimarães:
“Deus é traiçoeiro! Ele faz é na lei do mansinho”. O IDHM só faz sentido se
examinado nos detalhes que seu conjunto revelam, nos movimentos.
Se você tem
síndrome de Odete Roitman e acha que “este país tupiniquim nuca muda”, pare o
texto por aqui e volte para as frases falsas da Clarice Lispector no Facebook
ou ainda vá ver se alguma das Quatro Pontes (PR) partiu. Os dados são
inequívocos: o país mudou e muito, em 20 anos. A classificação do IDHM médio (o
que mostra o todo) foi de Muito Baixo (0,493, em 1991) para Alto
Desenvolvimento Humano (0,727 em 2010). Houve (e seguirá havendo) evolução nas
3 dimensões do índice. Isto costuma acontecer porque elas são ligadas por fios
correlativos. Mais educação, mais saúde, mais renda. Mais renda, mais saúde e
educação. Coloque na ordem que quiser. As dimensões se alimentam mutuamente,
mesmo que não simultaneamente. Daí, em
séries temporais longas, exceto quando há causas externas extemporâneas
(guerras, epidemias, campeonato mundial do Corinthians, etc.), veremos que elas
evoluem abraçadinhas.
A outra
constatação do conjunto é que o país continua espacialmente muito desigual. O
PNUD fez um mapa em cores para que até jornalista entendesse. (Obs.: Já reparou
porque nestes gráficos Verde ou Azul é sempre bom e Vermelho ruim? Será que a
maioria dos analistas é palmeirense e gremista?). O Centro-Oeste “enricou”, as
diferenças diminuíram no conjunto. Mas, ainda são enormes entre o Norte e
Nordeste e as demais regiões.
O detalhe é que há
a desigualdade dos desiguais. A desigualdade média é maior dentro dos
municípios com pior IDHM. Se o IDHM de um município com grande desigualdade é
baixo, então os pobres deste município estão ainda em pior situação do que os
pobres em municípios menos desiguais. Mesmo que isto afete proporcionalmente
uma pequena parte da população (6%), porque ocorre basicamente em municípios pequenos
(menos de 10 000 hab.), é neste grupo de 11 milhões de pessoas que estão 7 em
cada 10 miseráveis do país. Logo, entender e reverter o problema nestes
pequenos municípios é chave para erradicar a miséria.
As mudanças mais significativas
(observadas em toda a análise) IDHM 2010 são:
1. Saúde (medida pela esperança de
vida ao nascer): Neste índice, o Brasil conseguiu chegar ao desenvolvimento muito
alto. A cada ano, os brasileiros vivem mais, em todo o País. Nenhuma cidade
está na faixa "baixo" ou "muito baixo". A maioria dos
brasileiros (62,2% da população) vive em áreas com o IDHM-Longevidade
considerado “Muito Alto”. A diminuição significativa da mortalidade infantil (com
grande participação da sociedade) e a queda na fecundidade são as principais
causas do avanço neste índice.
a.
A
maioria absoluta das pessoas vive em cidades que baixaram para menos de 19 por
mil nascidos vivos a mortalidade infantil. Antecipando a meta (ODM) para 2015.
b.
Hoje,
mais de 50% dos municípios brasileiros têm taxas de fecundidade abaixo do nível
de reposição da população. Isto ajuda a longevidade, mas já apresenta uma
preocupação: envelhecimento da população em idade ativa. Um viés estrutural do
IDH (da qual o IDHM não consegue escapar de todo) é que ele termina por
privilegiar populações maduras. Além desta vantagem natural do índice, no
Brasil os idosos são mais ricos do que as crianças em uma medida de 3 para 1.Logo,
principalmente no Sul, há muitos municípios que apresentam um alto IDHM
justamente por serem “velhos”. E estes municípios tendem a cada vez menores. Daí,
seu excelente resultado não significa muita coisa, exceto como tema das partidas
de dominó na praça.
c.
O
avanço só não é ainda maior por uma razão: a violência, que se espalhou das
grandes metrópoles para as cidades pequenas e atinge especialmente nos jovens. O
crescimento na expectativa de vida nos últimos dez anos – 46% no Brasil e 58%
no Nordeste – seria até 1.8 ano maior se não fosse o impacto da violência entre
os jovens. A taxa de mortes violentas entre jovens chegou a 134 por 100 mil
hab., mais do que o dobro do já alto índice da população em geral, de 54 por
100 mil.
2. Educação é a dimensão que mais
avançou em termos em termos relativos: 128,3%. Mas ainda é a única área do IDHM
que não se pode classificar como ALTA. Não compare com outros países, lembre-se
de que a metodologia brasileira é mais exigente (tem foco nos últimos anos de
cada nível de ensino e não nos primeiros, como o IDH tradicional). Em 20 anos o
Brasil universalizou o ensino fundamental, triplicou a inserção na secundária e
quase dobrou a no ensino superior.
a.
No
ensino fundamental o crescimento alcançou estabilidade, mostrando que os
resultados na universalização do ensino alcançaram maturidade. É o tal “se
piora estraga”. É preciso manter as taxas. Porém, devido ao curto tempo, o
Brasil só universalizou o ensino fundamental há 15 anos (o Uruguai o fez há 73
anos, a África do Sul há 31), ainda haverá impacto da educação na renda, nos
próximos anos. Educação é um índice que melhora rapidamente, mas demora mais
para impactar os outros.
b.
O
índice da secundária foi o que cresceu mais na última década, puxado pelo fluxo
escolar de jovens 2,5 vezes maior em 2010, em relação a 1991. Um crescimento de
156%.
c.
Todos
os comentários que li mencionam que devemos contrapor este avanço na
escolaridade (o que o IDHM mede) com o problema da qualidade. Besteira. Não que
a qualidade da educação (seja isto o que for: resultado em exames, horas de
escola/ano, etc.) não seja relevante para o país. Porém, não o é para a
avaliação do IDHM. O IDHM tem que ser
comparado endogenamente, ie, consigo mesmo.
Acompanhe a ideia: A desigualdade entre o indivíduo A (que tem o curso
completo da faculdade de 1ª. linha) e outro, B (com 3 anos de escola) é X. Suponhamos que B agora tem 8 anos de escola.
A desigualdade e agora é de Y. Mesmo que a escola de B seja ruim e a de A tenha
piorado, assim mesmo Y será MENOR do que X. A
desigualdade educacional é enorme, mas a evolução na escolaridade em si (mesmo
a de baixa qualidade) representa impacto na renda, saúde e redução do fosso. A
questão da qualidade educacional precisa de outros elementos de análises. Deve
ser medida nos impactos extraescolares do ensino, tais como produtividade, satisfação,
patentes, etc. O IDHM mede a matéria-prima, a qualidade deve ser medida pelo produto final que gera a educaçao.
d.
Com
o aumento geral dos níveis de escolaridade, cai o corelação ano Escolaridade X Renda.
Quanto mais gente na escola, menos a escola é uma diferença competitiva para
obter maiores salários. Nas grandes
cidades mais ricas, esta relação caiu quase 1/3 em 20 anos. A escolaridade
perde peso na redução efetiva das desigualdades. Daí, outras barreiras de desigualdade
ganham mais importância (escola privada X pública, idiomas, etc.).
3. Renda: A melhoria corresponde a
um ganho de renda per capita de R$ 346,31 em 20 anos.
a.
Renda
evoluiu equilibradamente pela queda da desigualdade e pelo aumento da renda de
trabalho. Uma boa notícia que mostra potencial para que a renda continue a
crescer.
b.
A
desigualdade de renda brasileira transparece no IDHM. Norte e Nordeste têm,
neste índice a maior brecha em relação às demais regiões. Mesmo sem crescimento
econômico, mantidas as taxas atuais de desemprego e renda de trabalho, se conseguir
reduzir a desigualdade de renda (GINI) para a média latino-americana, o Brasil
já adicionaria outros R$101,70 de renda a cada família brasileira, em 2020 e
teria erradicado a miséria. Noutras palavras, a desigualdade ainda é principal
causa de pobreza no Brasil.
c.
Municípios
com renda menor têm mais crianças e adolescentes proporcionalmente. As políticas
específicas para as famílias aonde vivem estas crianças e adolescentes ainda não
tiveram os impactos necessários.
d.
Municípios
com renda menor tendem a se dividir mais. Nos últimos 20 anos, 68% das
emancipações deram-se em áreas deprimidas em termos de renda. Mesmo tão criticadas
pelo senso comum, o curioso é que as emancipações têm, em 83% dos casos,
efeitos positivos no índice (aumento maior do que a média da microrregião) do
território emancipado.
A
PERGUNTA QUE IMPORTA...
Algo muito central passa despercebido
nestes relatórios. IDH não mede o Desenvolvimento Humano. Não apenas porque o
Desenvolvimento é mais amplo do que estas dimensões (inclui participação,
interação, liberdades, etc.). A ideia do IDH não é medir o Desenvolvimento, mas
o POTENCIAL para tal.
A hipótese que baseia o IDH é
que se um indivíduo tem saúde, renda para as suas necessidades e conhecimento
(educação) terá mais opções, uma gama de escolhas ampliadas na vida. Enfim,
poderá se desenvolver.
No entanto, o aumento do IDHM
acompanhados de fenômenos aparentemente contraditórios (como aumento das
violências principalmente dirigidas a jovens e mulheres, monetarização da vida,
privatização de serviços essenciais, decadência nos indicadores ambientais, aumento
do endividamento de curto-prazo, segregação espacial urbana, e outros) pode
indicar uma sociedade que, a despeito de suas crescentes possibilidades
(potencial para o Desenvolvimento), faz escolhas que terminam por fazerem mal e
prejudicar as atuais e futuras gerações.
Assim, é natural e desejável a
busca por melhorar os índices que compõe o IDHM. Mas, a pergunta principal
diante do índice não é “Quanto?”, mas “E daí”?
A questão central passa a ser: “Em
que medida as possibilidades ampliadas de escolha geram melhoria da vida da
sociedade como um todo?”. E se esta medida não é adequada, “o que se deve fazer
para informar melhores escolhas pessoais e coletivas?”. Isto não é uma pergunta
puramente de políticas de Estado. É uma pergunta sobre a construção do tecido
social. Uma sociedade com poucos espaços comuns, precários canais de diálogo, que
não compartilha serviços, recursos e decisões terá dificuldades de construir
identidades consistentes e de fazer boas escolhas. “A socialização pelo consumo
é monológica, voluntária e não obrigatória, individual e não coletiva”. Mesmo em países de altíssimo IDH, e que
tiveram ainda crescimento nos últimos anos, sua população crê que sua vida está
pior do que antes. Somente 28% dos Alemães pensa que seu país é melhor hoje do
que há 20 anos. No Canadá este grupo não passa dos 35%.
Não basta para uma sociedade
ficar mais rica, mais escolarizada e mais longeva, ela precisa ser uma sociedade
melhor para todos os seus participantes atuais e futuros.
Ainda acha mais importante
medir se o seu é maior do que o da Argentina? Vá ver o tamanho do IDHM de
Pontão (RS)*! :-):-)
*0,725
Mais
sobre o IDHM 2010 em: